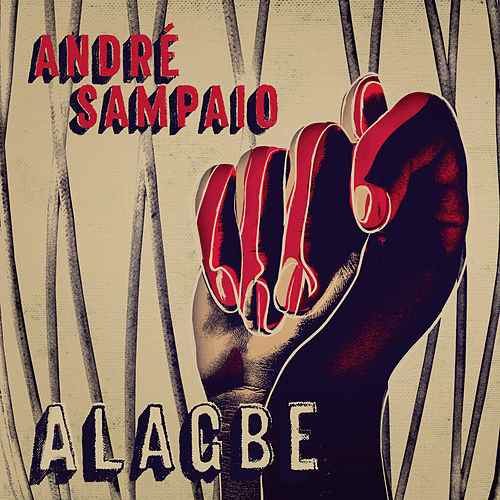No mar do afro-rock
Com a guitarra em primeiro plano, André Sampaio se aproxima da estética afro-rock em seu segundo disco solo. “Alagbe” tem produção de Cris Scabello (guitarrista do Bixiga 70) e participações de DJ Nato PK, do tecladista Maurício Fleury, da cantora nigeriana Okwei Odili, do poeta baiano Nelson Macca e do Roberto Barreto (que toca guitarra baiana no Baiana System)
Por Ramiro Zwetsch
A música brasileira é naturalmente inundada pela polirritmia africana. É uma questão de DNA, das influências e referências que atravessaram os mares e fizeram surgir tantos ritmos brasileiros, caribenhos e norte-americanos. O músico André Sampaio acaba de dar uma remada diferente nessa navegação sem fim. Carioca de Vila Isabel, sua trajetória musical reúne elementos que se somam e oferecem uma diversidade própria da diáspora.
Ex-integrante da banda de reggae Ponto de Equilíbrio (da qual fez parte por mais de 10 anos) e Ogan Alabê (mestre de importante papel espiritual no candomblé) desde 2011 no terreiro que frequenta há mais de uma década no Rio de Janeiro, ele aponta sua guitarra para o afro-rock dos anos 70 em seu segundo disco solo, “Alagbe”. Assim como a África inspirou o surgimento do blues e do rock nos EUA, essa referência voltou ao continente nos anos 70 no trabalho de bandas como The Funkees (Nigéria) e Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou (Benin), entre muitas outras, em um fértil encontro do rock norte-americano com afrobeat e o afro-funk.
Sampaio, em pleno 2017, acrescenta um tempero brasileiro nessa receita com referências do candomblé (nos ritmos e nas letras) e traz diversidade ao cardápio do afro-rock. As distorções e solos de seu instrumento se destacam na sonoridade de “Alagbe”, que dispensa metais em sua instrumentação. No ritmo, sua mão direita procura as cordas com os movimentos de quem bate em instrumentos de percussão. Com produção do também guitarrista Cris Scabello (integrante do Bixiga 70), o álbum reflete também o momento do músico, agora inteiramente dedicado ao trabalho solo.
A banda base conta bateria (Mauricio Bongo), baixo (Rico Bass), teclados (Marco Mauricio), percussão (Joás Santos) e um coro feminino formado por Lenna Bahule e Kuky Lughon – que dá um contraponto interessante ao vocal de André, na dinâmica de pergunta e resposta das letras. O disco traz ainda boas participações como as de Maurício Fleury (tecladista do Bixiga 70), Roberto Barreto (que toca a guitarra baiana no Baiana System), DJ Nato PK (programações), Nelson Maca (poesia) e a cantora nigeriana Okwei Odili.
Sua pesquisa em torno da guitarra africana, que o levou a viajar por dois meses ao Mali, Moçambique e Burkina Faso em 2012, já era uma inspiração para o primeiro disco, “Desaguou” (de 2013). “Alagbe” é um mergulho ainda mais profundo nesse mar de influências – que contempla reggae, candomblé, capoeira, rock e vários ritmos africanos e brasileiros – e gera uma onda ainda não surfada pela música brasileira contemporânea: a do afro-rock. André Sampaio usa a guitarra como prancha e já está na crista. Leia a entrevista abaixo com o músico e ouça o disco!
Como você diferencia este novo disco do seu primeiro trabalho solo? O que mudou entre um disco e outro?
Esse novo disco, “Alagbe” (do yoruba alagbe), consolida a identidade do meu trabalho solo. O primeiro, “Desaguou”, foi gerado em paralelo ao meu trabalho com o Ponto de Equilíbrio. Ele retratava meu mergulho na música africana moderna e minhas viagens à África e mergulho no universo afro-brasileiro. Eu tinha acabado de me iniciar ogan no candomblé, vinha de uma viagem a Moçambique, Mali e Burkina Faso e estava em diálogo muito forte com a cena afrobeat no Brasil e na Europa, principalmente em Portugal. Já em “Alagbe”, retrato o meu caminhar e as experiências que venho colhendo desde o lançamento do primeiro disco. É meu primeiro disco solo depois de minha saída do Ponto de Equilíbrio, portanto o trabalho solo deixa o lugar de paralelo pra se tornar o principal, uma diferença danada. Além disso, nas vivências que tive em Mali e Burkina, aprendi muita coisa que demora pra ser digerida, então ao longo desse tempo minha forma de tocar e compor foi se transformando ao mesmo tempo que trazia parte desse material pra fusão que me propus. Se num primeiro momento eu tentei aprender ao máximo algumas das diversas linguagens africanas na guitarra, agora passei a me sentir mais confortável e seguro pra experimentar fusões entre essas linguagens e elementos afro-brasileiros que me cercam (como o candomblé, a capoeira angola, o coco) e a isso tudo mesclar essa linguagem afro mais roqueira e com características fortes do dub e do groove como carros-chefes. Além de todas essas texturas sonoras, esse álbum também está muito mais canção, algo no que a produção do Cris foi fundamental, ao retirar das músicas o essencial, o suprassumo do instrumental e das melodias cantadas, com letras mais posicionadas no mundo contemporâneo. Mesmo quando falamos de uma África ancestral, falamos no sentido de conectar com as questões atuais em busca de outras soluções, passando longe da folclorização e da romantização de nossa cultura e religiosidade. Um ponto em comum entre essas culturas e influências todas que fazem parte do trabalho, é que cultuamos os ancestrais e recontamos nosso passado pra construção de novas respostas pras questões atuais.
Tanto você como o produtor Cris Scabello destacam que o disco ficou com uma sonoridade afro-rock. Como chegaram nesse caminho e qual foram as principais referências nesse gênero?
Isso foi um consenso. Na verdade, fiquei muito feliz ao ver um guitarrista como o Cris, de uma das bandas referência em música afro contemporânea no brasil e no mundo, identificar isso já quando ouvimos o “Desaguar” juntos nas primeiras reuniões de produção. Minhas referências de música africana moderna têm na guitarra um papel fundamental de eixo e prisma de trocas e intercâmbios entre tradição e modernidade, entre instrumentos tradicionais e modernos. A música do Mali e Burkina é considerada uma das principais raízes do blues e da música negra norte-americana e todas essas influências eu senti confluírem com minhas referências de rock psicodélico dos anos 60 e 70, como Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Santana… Mesmo no reggae, muitas das minhas contribuições foram no sentido de trazer essas influências que já vinha coletando na construção de uma identidade com uma pegada mais visceral, característica principal minha em shows e solos. Ao gravar junto e ver tocar artistas como Vieux Farka Touré, Bassekou Kouyate (minhas grandes referências africanas ao lado do pai de Vieux, Ali Farka Touré, e do tocador de kora Toumani Diabate), comecei a compreender caminhos onde essas linguagens pudessem se encontrar: sempre a pegada rock, o fuzz, a distorção, fazendo um diferencial muito interessante. Encontrar um produtor guitarrista de afro foram a sorte e o incentivo que faltavam pra assumir de vez esse lado que sempre foi meu.
Seu disco se diferencia de outros trabalhos recentes de artistas brasileiros com forte referência afro, pela presença em primeiro plano da guitarra e pela ausência de metais. Por que essas opções?
Nas formações que já toquei com Os Afromandinga, em raras vezes utilizamos naipe de metais. A formação clássica de banda de rock sempre veio acompanhada de percussão, teclados, outra guitarra, backings… Já os metais, nós usamos em poucas ocasiões. Na minha música, a composição gira em torno da guitarra e do canto. Mais uma vez o olhar de Cris foi decisivo pra deixarmos os arranjos em cima das guitarras e teclados, que compuseram de forma potente as polirritmias e diálogos melódicos que propusemos. Ao assumir o afro-rock e o afro-funk como estética, e tendo as guitarras presentes e com a força que elas tem, não colocar metais faz o trabalho crescer ainda mais e assumir um caminho diferente do que os grupos de afrobeat e similares tem feito por aqui.
Você já viajou algumas vezes à Africa. O que te levou ao continente e como essa vivência reverbera no seu trabalho?
Foram muitas as perguntas que me levaram lá e que me levam a querer voltar, mas meu envolvimento com o candomblé, a capoeira angola e a musica de matriz africana (tanto o reggae e niyabinghi jamaicano quanto ao afrobeat e similares) e uma identidade profunda com as atmosferas sutis que envolvem essas manifestações foram os principais impulsos. Cresci em um bairro de maioria negra (Vila Isabel / RJ) onde samba e a malandragem se aprendiam em cada esquina. Minhas memórias mais antigas ainda trazem essa atmosfera que eu senti ao pisar pela primeira vez em África e que eu sinto sempre no meu terreiro na baixada fluminense. Minha vida pode ser dividida em antes de ir à África e depois, assim como em antes e depois de ser iniciado no candomblé como Ogan Alabê de Ogun. No caso de África, fiquei meses em meio às famílias de mestres e griôs, aprendendo na prática sobre seus valores, costumes, formas de olhar a vida e sua música, que está presente e é influenciada por todos esses elementos constituintes de sua cultura. Tive contato com muitos instrumentos, mestres, danças e cantos, mas escolhi a guitarra pra me debruçar sobre. Em comum, culturas e etnias tão diversas tem o fato de utilizarem a guitarra como ferramenta de conexão entre ancestralidade e contemporaneidade. Os griôs e músicos a utilizam pra recontar e resignificar suas histórias e manter sua cultura e identidade vivas e em constante transformação. Pra mim, são os que fazem isso de forma mais orgânica e natural no mundo e identifico muito do que absorvi nessas convivências.
A referência do candomblé é muito presente no disco. Qual é o seu envolvimento com essa cultura / religião e como essa experiência se reflete no trabalho?
Eu sempre me interessei pelos batuques e pelas religiões afro-brasileiras, mas só tive a sorte e a honra de conhecer mais de perto e fazer parte há pouco mais de 10 anos. Fui iniciado Ogan Alabê* de Ogun pela grande Iyalorixá Beata de Iyemonja (falecida em 27/05 de 2017) em 2011 e foi justamente após o período de rituais e obrigações que veio o impulso de criar um trabalho solo, na época em paralelo ao trabalho com o Ponto de Equilíbrio. O candomblé construiu sentido e aprofundou muito minha relação com a minha ancestralidade. Como Alabê, o sentido sutil / espiritual que sempre permeou a música que fiz ganhou sentido e muitas relações e perguntas foram respondidas e confirmadas. Para nós não há diferença entre o físico e o espiritual, então tudo que tocamos, fazemos e vivemos está conectado ao físico e ao sutil, ao ayê (Terra) e ao Orum (céu). O título do disco e a canção “Alabê” são justamente a consolidação desses sentidos e fazeres, sendo a guitarra o elemento articulador de todos esses universos, ambientes e fundamentos. Como um alabê guitarrista, a função de integrar a ancestralidade com a contemporaneidade ganha outro sentido, reforçando o caráter negro do rock e do blues e o espírito inovador e em constante transformação das culturas africanas e da diáspora. “Alabê” sintetiza tudo isso em uma letra que fala sobre como, pra mim, o sagrado se manifesta nas pequenas e grandes coisas do dia-a-dia, além de ser um manifesto de respeito às tradições e mestres e contra qualquer forma de intolerância religiosa.
*Ogan (Mestre) – Guardião e zelador da Casa de Candomblé, dos rituais e dos seus membros. É o homem que é escolhido por um Orixá para ser guardião do próprio Orixá, do filho do Orixá e do templo.
*Alabê (do yoruba Alagbe – senhor da cabaça) – Ogan iniciado pra tocar os atabaques. Sua função espiritual é cuidar da música, instrumentos (atabaques, também chamados de ilus), canto e toques sagrados que são utilizados para cultuar os Orixás e os ancestrais na Terra (ayê).
Por que quis chamar o Cris para produzir o disco?
O convite ao Cris se deu de uma forma muito natural. Conheci ele pessoalmente no fim de 2016 numa festa na casa do (baterista) Bruno Buarque, em que rapidamente nos identificamos e ele me levou pro lugar que mais curtimos estar: no estúdio fazendo música com amigos e excelentes músicos da cena. A gente ficou brother mesmo já de cara e quando fui ao estúdio Traquitana visitá-lo, já tínhamos uma identificação e admiração mútuas, o que facilitou demais o processo todo. Ele é um cara muito experiente, com um caminho que muito tem a ver com o meu, tendo vindo do reggae e sendo guitarrista de um grupo como o Bixiga 70, a meu ver a principal referência de afrobeat e música afro contemporânea no Brasil. Não poderia ter tido mais sorte ou ser mais feliz na escolha, pois ele contribuiu muito nos arranjos e em me passar segurança de quem entende a linguagem e onde eu queria chegar com o som do disco. Acho que ele traduziu de maneira perfeita o clima afro-rock que nos propomos e foi um grande acerto não termos colocado metais no disco, além de muitas outras contribuições dele. O time que ele trouxe junto também foi espetacular, com gente como o Victor Rice (mix), Fernando Sanches (master), Magrão (arte e design). Isso acrescentou um peso e um padrão de qualidade que funcionaram muito bem.
Como se sente como cantor? Quais são suas principais referências no seu jeito de cantar?
Me sinto como um cantador, como alguém que veio do canto de terreiro, da capoeira, da rua, do axé. Esse canto de chamada, de pergunta e resposta, em que o diálogo do cantor e o coro é fundamental pra tudo fazer sentido. Nesse caso, minha referência são mestres de capoeira angola como Moraes, Traíra, Waldemar da Paixão, cantores de coco, grandes vozes do candomblé como Vadinho Boca-de-Ferramenta, Ogan Bangbala, Iya Olga do Alaketu. Cantores do samba e da MPB também me influenciaram muito, gente como Candeia, Gilberto Gil, Jorge Ben, Jovelina Pérola Negra, Lenine e Chico César. Os sotaques dos cantores de voodoo funk do Benin, dos afrorocks e e da juju music da Nigéria e do blues e rock psicodélico (como Jimi Hendrix) também me influenciam. Tento trazer todos eles na alma e fazer referência a eles quando canto.
E como guitarrista, quais influências você destaca mais?
Sobretudo Ali Farka Toure, Vieux Farka , Bassekou Kouyate e Jimi Hendrix. Muddy Waters, Eric Clapton, BB King, Ernest Ranglin, Earl “China” Smith, Baden Powell, Santana e John McLaughlin também. O guitarrista da Guiné Sekou “Diammond Fingers” Diabate e os guitarristas do Benin e do Zimbabwe, com certeza. Berimbau e atabaque também me influenciam muito na maneira de tocar guitarra.
E na escrita das letras? Houve uma intenção mais direcionada em relação às letras?
Nas letras eu procuro trazer as reflexões minhas sobre esses universos e sua relação com o mundo atual. Não tive uma intenção prévia, mas relatar minhas experiências me ajudou muito nessa época de crises e dificuldades várias, pessoais e do mundo que vivemos. Algumas questões que dizem respeito ao mundo e ao Brasil influenciam diretamente minha vida e algumas questões muito particulares acabam gerando eco nas pessoas. Como os cantadores de capoeira e coco, como os griôs, fazer poesia de nossas história é ao mesmo tempo uma forma de exorcizar nossos demônios e mágoas, bem como a construção de outras novas e possíveis narrativas. Gosto muito de Mia Couto e Guimarães Rosa, romancistas que me influenciam a trazer a visão de mundo das pessoas ligadas à terra pra escrita.
Você foi guitarrista do Ponto de Equilíbrio por mais de 10 anos. Você identifica elementos dessa experiência no seu trabalho solo?
Acabamos trazendo tudo que já fizemos na vida pros nossos trabalhos artísticos. Acredito que esse disco tem a ver com o Ponto de 10 anos atrás, quando estávamos indo forte nessa questão de fusões e experimentações. Até regravei uma música minha que lançamos no “Abre A Janela” (2007), a faixa “Quem Sabe”, dentro de uma nova estética e com a letra atualizada.